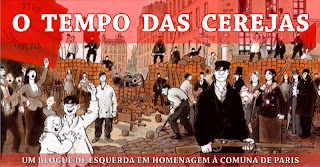Por ocasião do
bicentenário da revolução francesa uma polémica marcou a historiografia mundial.
No debate destacou-se François Furet que na obra
Pensando a Revolução
Francesa[1],
caracterizava a revolução de 1789 como um «acidente histórico» e procurava
separar o processo iniciado em 1789 das revoluções posteriores, sobretudo da
russa de 1917. Do outro lado da controvérsia, Eric Hobsbawm publicou uma série
de ensaios, reunidos na obra
Ecos da Marselhesa[2],
onde defendia que a posição de François Furet e de outros historiadores com esta
visão resultava de pressões ideológicas (no sentido de falsa consciência)
revisionistas e não de uma investigação renovada da revolução francesa: «(…) O
revisionismo na história da Revolução Francesa é, simplesmente, um aspecto de um
revisionismo muito maior sobre o processo do desenvolvimento ocidental – e mais
tarde global – na era do capitalismo e em seu interior (…)»
[3].
Uma polémica semelhante
deu-se em Portugal quase 15 anos depois, também a propósito de um aniversário, o
trigésimo da revolução portuguesa, em Abril de 2004. Embora já houvesse uma
discussão em torno da caracterização da mudança de regime – Medeiros Ferreira,
por exemplo, discute a questão no texto «25 de Abril, uma revolução?»
[4] –,
é a partir de 2004 que a questão se avoluma. No seguimento da escolha do cartaz
oficial comemorativo para a celebração ter a inscrição «Abril é Evolução», uma
polémica chegou às páginas dos jornais sobre o que tinha sido a revolução
portuguesa. O debate rapidamente se centrou na questão sobre que deveria ser
salientado em Portugal depois do fim da ditadura: a revolução ou a evolução do
País no período pós-revolucionário.
António Costa Pinto, na
altura comissário para as comemorações dos 30 anos do 25 de Abril, escreveu no
calor da polémica que: «No panorama habitualmente morno das comemorações de
datas históricas, algumas dimensões das celebrações dos 30 anos do 25 de Abril
provocaram pelo menos um esboço de debate. O trogloditismo saudosista, com a
excepção dos escassos defensores de uma história ao serviço da ‘revolução hoje e
sempre’, teve escassa visibilidade. (…) Comemorar os 30 anos de evolução para a
democracia e o desenvolvimento que se seguiu à Revolução de 1974 não agradou a
uma parte da esquerda, o que é natural. Ver o centro-direita de cravos a
comemorar o 25 de Abril foi-lhe desagradável»
[5].
O historiador Fernando Rosas criticou o envolvimento de António Costa Pinto
naquilo que considerou ser uma «pseudocientificidade»: «Abril não foi evolução
porque as direitas portuguesas foram historicamente incapazes de realizar um
processo de transição, isto é, de levar a cabo, a partir do próprio regime, um
processo endógeno e sustentado de reformas»
[6].
Outros cientistas sociais, como António Borges Coelho, Manuel Villaverde Cabral
e Luís Salgado de Matos, envolveram-se no debate
[7].
Hoje, o termo revolução
convive, na academia, para designar exactamente o mesmo período, com termos como
«transição», «processo de democratização» ou ainda «normalização democrática»,
«transição por ruptura». Cientistas sociais e historiadores de inspiração
marxista que estudaram a revolução portuguesa, como Loren Goldner, Valério
Arcary ou John Hammond, não questionam o termo revolução e contra-revolução,
embora controvertam se se tratou de uma situação revolucionária ou
pré-revolucionária e qual o grau de radicalização da mesma
[8].
Mas mesmo fora do campo do marxismo muitas obras mantiveram o uso do conceito de
revolução e contra-revolução, como é o caso dos estudos de Boaventura Sousa
Santos e Medeiros Ferreira
[9];
e/ou distinguiram claramente o período da revolução (1974-75) do período de
transição para a democracia, que se inicia em 1976, como nas obras de João
Medina e Fernando Rosas
[10].
Outros autores, porém, usam indiferentemente os dois conceitos. Josep Sanchez
Cervelló em «O Processo democrático português 1974-75»
[11],
Maria Inácia Rezola em
Os Militares na Revolução de Abril. O Conselho
da Revolução e a Transição para a Democracia em Portugal (1974-76)[12] e
Tiago Moreira de Sá em
Carlucci vs. Kissinger[13] usam
indistintamente, para falar do mesmo período, o termo revolução e transição. É
na área da ciência política que se destacam os trabalhos que tendem a usar
exclusivamente o conceito de «transição» para a mudança de regime ocorrida em
Portugal, tendo como influências determinantes as obras de Philippe Schmitter
[14] e
António Costa Pinto
[15].
Na verdade, dificilmente se pode afirmar que em todos os casos os termos são
usados tendo por base uma discussão teórica prévia e uma opção científica
teórico-metodológica, desde logo porque o debate teórico entre a historiografia
portuguesa é amiúde desprezado. Mas a indefinição terminológica tem
consequências epistemológicas. A polémica é incontornável porque revela, mais do
que um conceito, uma visão histórica sobre o que é uma revolução, os seus
sujeitos, as suas consequências, os seus derrotados e vencedores.
Em primeiro lugar, o
conceito de revolução tem um significado histórico que podemos e devemos
debater, mas que de forma alguma se confunde com uma visão teleológica que
associa uma mudança de regime revolucionária à consolidação de um regime
democrático liberal. O período após a década de 70 do século XX viu surgir no
Mundo uma vaga de novos regimes de democracia representativa que inspiraram um
paradigma na ciência política, de tradição fortemente ligada ao pensamento
liberal, como argumenta Ronald Chilcote
[16],
que é simultaneamente teleológico – as sociedades caminhariam inevitavelmente
para um tipo de regime, a democracia liberal – e ideológico – na medida em que
todas essas análises, como assinala Matheus Silva, ou propõem «o aprofundamento
do modelo neoliberal como forma de solucionar os problemas da democracia
contemporânea» ou procuram a «melhoria da democracia dentro do âmbito da
democracia liberal actualmente existentes»
[17].
Esta análise tem sido
alvo de críticas mesmo em Espanha, o modelo deste paradigma, onde a mudança de
regime se deu por negociação entre a classe dominante e as direcções das
organizações operárias e de trabalhadores (PCE, PSOE, CCOO). Encarnación Lemus
por exemplo, lembra que a democracia não era o desenlace obrigatório da luta
política e social que ocorreu em Espanha em 1975: «Por um lado, em 1975, o
socialismo como princípio ideológico e como sistema social não estava
desautorizado; a via socialista estava a ser tentada em Portugal; por outro
lado, ainda existia o Governo republicano no exílio, que reclamava a legalidade,
e os partidos da oposição, tanto os socialistas como o PCE, eram republicanos»
[18].
Carlos Taibo escreve que «boa parte da literatura sobre transições «não se
limita a analisar as transições, mas agrega a estas um destino final desejado: a
democracia»
[19].
Com um efeito a jusante, que é o próprio estudo das democratizações estar
inquinado por visões que desprezam as variáveis sociais, como lembra o cientista
político Gabriel Vitullo: «A necessidade de resgatar e dar maior atenção às
variáveis estritamente políticas – antes não tidas em conta – não pode autorizar
que a democratização seja vista apenas como o resultado de uma eleição ou opção
estratégica das elites dirigentes, omitindo o restante da sociedade, os sectores
populares e a própria história, como fica manifesto na colectânea de Higley e
Gunther (1992)
[20],
cujo objectivo primordial parece ser o de adoptar o compromisso das elites como
pré-condição fundamental para a consolidação da democracia. Como criteriosamente
argumenta Bunce (2000, p. 635)
[21],
ficar nesse único plano de análise implica dizer que são as elites e não a
sociedade, a política e não a economia, os processos internos e não as
influências internacionais, os que constituem os factores cruciais da
democratização e que, portanto, agregaríamos, a democracia pode ser
confeccionada ou desmontada de acordo com as opções ou decisões tomadas por um
reduzido grupo de lideranças políticas»
[22].
A democracia, nos termos
em que se consolidou em Portugal, foi o resultado da luta de classes, da
revolução e da contra-revolução, mas não foi o seu resultado inevitável, o que
pode legitimamente ser deduzido dos estudos que analisam as transições para a
democracia na Europa do Sul. Poder-se-á ponderar, no caso português, os factores
que pendiam a favor da consolidação de Portugal como uma democracia liberal –
geograficamente inserido na Europa Ocidental e portanto, no quadro da divisão de
Ialta e Potsdam, na esfera de influência da NATO; peso das classes médias
portuguesas; qualidade da direcção da contra-revolução, que repousou em grandes
dirigentes políticos como Mário Soares, etc. – e também os factores que faziam
perigar essa hipótese – a existência de uma revolução; a profunda crise
económica e militar do País; o prestígio, ainda nesta altura, das sociedades
onde a burguesia tinha sido expropriada e que representavam 2/3 da humanidade; a
existência de países onde
a contrario dos factores internacionais, a
expropriação se deu, como Cuba; a «onda revolucionária» aberta com o Maio de 68
em França
[23].
A ponderação de uns e outros factores – só citámos alguns – é parte do trabalho
de historiador. Mas não autoriza argumentos contra-factuais. A democracia não
era, não se pode afirmar que era, inevitável.
Mas um outro argumento
desconceitua o termo «transição para a democracia» para designar o período
revolucionário. A revolução é um período distinto do regime democrático que se
seguiu à contra-revolução e portanto não é correcto inserir processos distintos
numa única noção de «transição para a democracia». Houve de facto duas rupturas
em Portugal entre 1974 e 1976: passou-se do regime fascista para um período
revolucionário (que aliás se pode dividir em dois subtipos, um essencialmente
democrático até 11 de Março de 1975 e outro de disputa objectivamente socialista
a partir dessa data) e desse para outro democrático liberal, que se começa a
formar a partir de Novembro de 1975. O novo nasce do velho. Mas é necessário
recordar que a revolução portuguesa não foi o «acidente» que deu origem à
democracia. Foi uma situação distinta do regime democrático liberal que se lhe
seguiu – e cuja matriz genética é a própria revolução
[24] –
mas que assenta em dois pressupostos radicalmente distintos do período
revolucionário: a democracia representativa e o respeito pela propriedade
privada dos meios de produção.
O termo «transição por ruptura» também não elimina esta omissão, uma vez que
houve duas rupturas muito bem delimitadas cronologicamente, em termos de
direcção política, e em termos da organização das forças armadas em Portugal: o
golpe militar de 25 de Abril de 1974, que iniciou a revolução, e o golpe militar
de 25 de Novembro, que iniciou a contra-revolução e o regime
democrático-liberal. A única fronteira que não é clara na mudança ocorrida em 25
de Novembro é precisamente no campo das lutas sociais (as ocupações de terras,
por exemplo, prosseguiram para lá de Novembro de 1975). Uma vez que a
contra-revolução também é ela própria um processo (que começa num golpe militar,
mas a ele não se resume) e vai-se dar num curto e médio prazo (os bancos serão
desnacionalizados uma década depois). Mas do ponto de vista de regime a mudança
foi clara, com o fim da “indisciplina” nos quartéis logo a partir de 25 de
Novembro 1975 e a realização de eleições legislativas em Abril de 1976.
Um outro argumento ainda
lembra que o próprio conceito de revolução tem uma história. Carlos Taibo
lembra, a propósito das mudanças de regime da Europa de Leste (1989), que os
conceitos de revolução e de transição dificilmente são compatíveis
[25].
Norberto Bobbio assinala que a terminologia revolução tem uma história e
significação própria, que o cientista político italiano opõe a reforma e não a
transição
[26].
O conceito de revolução, inclusive, é para este politólogo menos controverso que
a extensão da radicalidade da mudança numa revolução: «Afirmemos desde já que a
dificuldade para emitir um juízo sobre a radicalidade da mudança é bem maior do
que a dificuldade para definir o evento revolucionário em relação à natureza do
movimento»
[27] (Bobbio,
2000: 606).
O termo transição é, finalmente, desajustado porque a ele está associado um
“como” – negociação entre “elites”, ou seja, acordo entre dirigentes das classes
em conflito –, mas não está explicado “porquê”, o que em última análise faz
repousar sobre a vontade individual dos dirigentes a razão de tal
negociação.
Em resumo, verifica-se
entre um sector da investigação histórica e política uma tendência para
considerar a revolução portuguesa como uma doença que surge num momento em que
já se estava a dar uma transição no País no sentido da democratização, ou seja,
tende a dominar uma visão de que a revolução interrompeu, como que
despropositadamente, uma transição/modernização que já estaria em curso e que
permitiria assegurar a mudança e simultaneamente a estabilidade do Estado. O uso
do conceito de “transição” não é, neste caso, uma escolha inconsciente, porque o
próprio conceito ergue uma visão historiográfica, acarretando consigo uma visão
teleológica das sociedades: o regime democrático como fim da história. É aliás
esta mundivisão ideológica que justifica que algumas obras sobre a revolução
portuguesa, que não se ancoram nas teorias da transitologia e têm por base um
levantamento histórico rigoroso, não se tenham inibido de classificar a
revolução como uma patologia, como é o caso da obra
Portugal em Transe,
de José Medeiros Ferreira
[28] ou
Os
Dias Loucos do PREC, dos jornalistas José Pedro Castanheira e Adelino
Gomes
[29].
Parece-nos que este debate é assim incontornável e o seu aprofundamento, para
o qual damos aqui apenas um contributo, é proveitoso e desejável. Porém, erguer
uma historiografia competente, rigorosa e capaz de resistir às pressões do poder
político implica muito mais do que o debate da terminologia. Implicará
porventura, entre outros caminhos, a rejeição das teorias filosóficas
pós-modernas que desvalorizam o labor da própria história em detrimento de
disciplinas mais especulativas; e exigirá um retorno inovado à história social e
à centralidade dos conflitos sociais para explicar o processo histórico. No caso
do estudo da revolução portuguesa, este esforço levar-nos-á à centralidade das
revoluções anticoloniais contra o império português e ao levantamento amplo dos
conflitos operários e populares durante a revolução.
Artigo 8 – Este artigo faz parte de uma série: 25 Artigos para 25
Dias, 2013. Publicado também
em http://raquelcardeiravarela.wordpress.com/