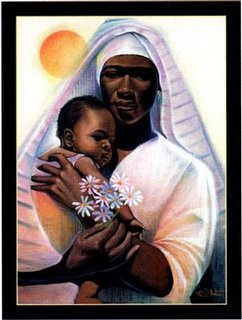MULHERES ANGOLANAS HISTÓRICAS (1)
Ana Nzinga Mbandi NGOLA
(1582 – dezembro 1663)
“Entre os negros com quem tive ocasião de conversar, não encontrei nenhum que superasse esta rainha pela generosidade de alma ou sabedoria de governação... ela revelava grande destreza nos assuntos políticos, perspicácia e prudência nos assuntos de família”, escrevia Cavazzi, missionário capucho que, durante algum tempo, foi confessor desta mulher extraordinária.
Ela nasceu em 1582, na família do mani do Ndongo, reino localizado no território da actual Angola. O nome do título do rei, Ngola, deu origem à denominação deste país. O pai da menina, Ngola Kiluangi, mantinha relações de paz armada com os portugueses de Luanda (onde se encontrava a sede do governador). A situação veio a deteriorar-se após a sua morte, ocorrida por volta de 1617, quando o seu filho e sucessor, Ngola Mbandi, assumiu o poder no Ndongo. Naquela altura, os portugueses ampliaram consideravelmente o tráfico de escravos e empreenderam uma série de incursões para o interior do continente, na esperança de, além de captura de escravos, apoderar-se das imensas reservas de prata que, segundo se dizia, existiriam nas áreas do interior. Ngola Mbandi lançou uma campanha militar contra os portugueses, tendo antes suprimido a resistência e a rivalidade dentro da família, assassinado o seu sobrinho, filho da sua irmã, Nzinga, e deportado ela própria. Do seu ponto de vista, foi uma prudência necessária, já que segundo os princípios do direito materno que vigoravam naquelas terras, era precisamente o sobrinho, filho da irmã, quem era o primeiro sucessor e, por consequência, o adversário mais perigoso.
Porém, a campanha militar falhou. A sua tropa pouco disciplinada, de tipo miliciano (e não existia outro tipo de tropa nos estados africanos pré-coloniais), não conseguiu resistir à pressão do exército profissional do Governador de Angola. A capital, Mbanza Cabana, caiu nas mãos dos portugueses, a família foi aprisionada, o próprio Ngola Mbandi refugiou-se nas ilhas Kwanza, de difícil acesso. Os autores contemporâneos escreviam que embora “os portugueses tivessem ganho a guerra, não conseguiram ocupar o território”.
O novo governador procurava entendimento com o governante do Ndongo, uma vez que todas as rotas de comércio estavam bloqueadas, com a própria cidade de Luanda cortada dos mercados de víveres. Por isso, a amizade com os aristocratas locais era uma condição indispensável para garantir o tráfico regular de escravos que eram cada vez mais procurados para o trabalho escravo nas plantações e nas minas do Brasil. Os antepassados de actuais brasileiros de pele escura são oriundos precisamente de Angola, mantendo, até aos nossos dias, as suas crenças, folclore, e alguns costumes de africanos.
Em 1621, Nzinga foi enviada para negociar com os portugueses, já que o irmão, seu rival, viu-se obrigado a reconhecer as suas invulgares virtudes. Foi o seu primeiro aparecimento na cena histórica. A delegação do soberano local foi recebida com grande aparato, inclusive salvas de canhões. Os portugueses ficaram muito impressionados com o sentido de auto-respeito e astúcia dela. Descreve assim Cavazzi este encontro – “Quando o vice-rei lhe concedeu audiência, ela, ao entrar na sala, notou que lá estava no lugar mais nobre apenas uma poltrona de veludo, ornada de ouro que se destinava ao vice-rei, havendo do lado oposto um riquíssimo tapete e umas almofadas de veludo... destinados a soberanos etíopes (era assim que, à semelhança da Bíblia, se chamava a todos os africanos – E.L.). Sem se atrapalhar e sem dizer uma única palavra, ela fez sinal a uma das suas damas para que se ajoelhasse e se fizesse de cadeira, sentou-se em cima das costas dela e permaneceu sentada até ao fim da audiência”. Deste modo Nzinga mostrou que se considerava uma participante de pleno direito das negociações, e não um vassalo submisso de Portugal.
Segundo testemunhas, “ela exigia paz com dignidade, propondo estabelecer uma união duradoura e sólida e mostrou que havia razões fortes e evidentes que faziam com que a paz fosse indispensável tanto para os portugueses como para o rei que a enviara. Deixou admirado, pasmado e convencido todo o Conselho”, e, “convencidos e vencidos pelas razões que avançara, os titulares superiores e os membros do Conselho nada puderam opor às propostas dela”. O acordo foi celebrado. Calculando que uma mulher tão inteligente, decidida, orgulhosa podia vir a ser uma aliada vantajosa e segura, os portugueses convenceram-na a baptizar-se, tomando o nome de Ana (em honra da esposa do governador português que também participou na cerimónia).
Em 1624, Ngola Mbandi morreu, em circunstâncias pouco claras. Nzinga, ao tornar-se a única governante, renunciou ao cristianismo e rompeu a união com os portugueses. Iniciou a luta contra eles, “dirigindo-se a deuses falsos e cumprindo a vontade deles”, como escreviam os cronistas. Na verdade, ela estava a cumprir a vontade de seus súbditos, descontentes com o tráfico de escravos praticado pelos europeus.
Porém, o primeiro passo que deu não foram operações militares, mas, sim, o envio de uma mensagem para o novo governador de Angola, Fernando de Sousa, exigindo que os portugueses evacuassem as fortalezas localizadas no interior (Mbaka, etc.). O momento para tal foi escolhido muito oportunamente, já que naquela altura emergiu na arena do comércio mundial a Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1621. No Verão de 1624, os seus navios haviam queimado seis navios portugueses no porto de Luanda e ameaçavam o domínio de Portugal naquela parte do globo.
Paralelamente, ela começou a preparar o seu exército que ia crescendo depressa à custa dos escravos fugitivos a quem prometia a liberdade. Alguns portugueses queixavam-se de terem perdido de 100 a 150 escravos cada um. Ana Nzinga soube também atrair para o seu lado as tribos vizinhas, geralmente hostis umas às outras. Foi então quando, em 1625, depois que mais uma ronda de negociações acabou num impasse e a guerra era iminente, estando as tropas de Nzinga preparadas, que, servindo de pretexto imediato para o início das hostilidades a proclamação de um aliado dos portugueses, Ari Ngongo, como soberano do Ndongo, Nzinga enviou as suas tropas e em resposta a isso, Luanda declarou-lhe guerra, formalmente, para proteger o súbdito português. De tempos em tempos os portugueses, dada a ameaça proveniente por parte da Holanda, empreendiam tentativas de concluir um acordo com ela, porém, com a condição indispensável de que ela reconhecesse a sua dependência da coroa portuguesa e pagasse anualmente um tributo. Ela ficou indignada com essa condição, declarando que era uma soberana independente e que “poderiam propor-lhe tal apenas se tivesse sido vencida pela força das armas, coisa que está muito longe de se concretizar, já que ela não só tem boas tropas como também audácia mais que suficiente para fazer arrepender os seus inimigos”. Nos inícios de 1626, os portugueses prepararam uma expedição militar bem apetrechada que expulsou Nzinga das ilhas do rio Kwanza, porém, sem a ter conseguido derrotar. Ao recuar para o interior do país, ela montou posições no nordeste.
Consolidadas as suas posições no litoral, os portugueses alargaram ainda mais o tráfico de escravos; os destacamentos de “pombeiros” arruinavam os povoados locais. Além disso, o facto de “Dom Felipe”, um fantoche baptizado que não pertencia à dinastia tradicional e, consequentemente, não possuía a graça de “santo rei-sacerdote” capaz de provocar a chuva e garantir o bem estar do povo, ter sido nomeado soberano do Ndongo, provocou descontentamento tanto dos aristocratas como da gente simples. Resultou disso uma fuga generalizada para o lado de Nzinga.
Progredindo em direcção a nordeste do Kwanza, conquistando as tribos locais e atraindo para o seu lado os jagas, um povo guerreiro de combatentes audazes e hábeis, ela instalou-se, em 1630-1635, nas montanhas de Matamba, tendo criado uma unidade política forte e estável. Segundo alguns investigadores, tratava-se de uma espécie de estado semi-feudal hierárquico. A própria Nzinga tinha o direito de decidir sobre a vida ou morte dos seus súbditos, era considerada proprietária de todos os bens que estes possuíam, sendo obrigados a cultivar as terras três vezes por semana para produzir produtos alimentícios para a corte. As testemunhas afirmavam que a sua corte era tão numerosa como as cortes reais europeias, incluindo pessoas “cujas qualidades e obrigações lhes davam o direito de se considerarem nobres”.
Nestas regiões mantinha-se o direito materno (em alguns locais mantém-se até hoje), baseado na consideração da linha matrilinear e, por consequência, uma posição relativamente livre da mulher na família e na sociedade. No Reino da Matamba, a mulher não só estava à frente do país como ainda para cada cargo eram designados “co-governantes” – um homem e uma mulher. A instituição de “co-governantes” se mantinha até aos finais do século passado, a norte, nas etnias lunda, luba e kuba – bacia do rio Congo, e em Buganda (território do actual Uganda), ainda até aos meados deste século. As mulheres também tomavam parte nas guerras; no tempo de paz as senhoras faziam competições em força, habilidade e audácia, para as quais saíam vestidas e armadas como amazonas. Elas montavam uma batalha em que a rainha, embora já com o fardo de mais de sessenta anos, revelava a mesma coragem, força, habilidade e agilidade que tivera aos 25 anos”.
Tendo consolidado o seu estado, Nzinga encabeçou a união de Matamba com o seu vizinho a Norte, o Congo, Cassange (situado no centro da Angola actual) e com as tribos do Leste formando assim uma coligação anti-portuguesa. A primeira ofensiva não foi bem sucedida devido às contradições no seio dos aliados: o soberano de Cassange, aproveitando a ausência de Nzinga, devastou as terras de Matamba e mais tarde recebeu calorosamente os mensageiros do novo governador. As tentativas desta missão especial enviada com o fim de obrigar Nzinga a aceitar a paz falharam (embora durassem vários meses). Uma testemunha escreveu que “Nzinga que era cheia de inteligência e dominava perfeitamente a arte de ironia, respondeu que conhecia muito bem a força e a audácia dos seus inimigos e desejaria ter a honra de ser aliada da coroa portuguesa... mas, considerava justo ver satisfeitas, através do tribunal ou com as armas nas mãos, as suas pretensões sobre as províncias que os seus antepassados possuíram em paz”. Ela estava decidida a continuar a luta.
Em Maio de 1641, os holandeses voltaram a aparecer ao largo de Luanda, tendo capturado uma caravana de vinte navios, além “da grande e linda cidade com 5000 casas de pedra, grandes e lindas... com cinco castelos e sete baterias com cerca de 130 canhões e 60 fuzis”. Logo em seguida, eles apoderaram-se também da fortaleza de São Felipe de Benguela. Nzinga soube aproveitar habilmente esta situação, tendo proposto aos holandeses unir os esforços para criar uma união dirigida contra os portugueses, à qual o soberano do Congo em breve aderiu. Os holandeses mandaram um destacamento de 300 soldados que ficou sob o comando dela. Ela conseguiu estabelecer o controlo político sobre a maior parte do litoral e do interior do país e, facto de maior importância, sobre as principais rotas de comércio. Ela concentrou nas suas mãos todo o comércio (incluindo o mais lucrativo, o comércio de escravos, já que ela era pessoa da sua época). Os lucros que ela obteve permitiram-lhe consolidar ainda mais o seu estado e sobretudo o seu exército. A fortaleza de Massangano era a única coisa que continuava na posse dos portugueses.
Os portugueses viram-se obrigados a pedir o envio de reforços do Brasil. Mas nem sequer este auxílio ou recrutamento do soberano de Cassange ajudou. Em 1647-48, os exércitos locais obtiveram várias vitórias importantes. Para que a vitória fosse total, era necessário conquistar a fortaleza de Massangano. A tentativa de organizar uma intentona dentro da fortaleza empreendida pela irmã de Nzinga, Fungi, que durante muitos anos estava aprisionada, foi descoberta, sendo Fungi executada. Além disso, em Agosto de 1648, chegou do Brasil Salvador Correia de Sá, designado novo governador, à frente de uma forte esquadra e um numeroso destacamento. Os portugueses apoderaram-se de Luanda, uma vez que a guarnição holandesa foi enfraquecida com o envio de uma parte das suas tropas para as portas de Massangano. Ao terem tido notícia da queda de Luanda, “eles... abandonaram os negros que decidiram não aceitar a capitulação”. Logo a seguir, um outro aliado de Nzinga, o soberano do Congo, foi obrigado a assinar um acordo humilhante com Salvador Correia de Sá.
Nzinga regressou à Matamba, tendo-se recusado a reconhecer tal acordo, exceptuando algumas cedências: em particular, foram adoptadas as leis que proibiam os cultos tradicionais. Em 1656, o Conselho do Governador, em Luanda, voltou a exigir que Nzinga assinasse um acordo nos termos do qual ela estaria obrigada a relançar a comercialização de escravos para os portugueses, pagar anualmente um tributo e jurar ser “amigo dos amigos e inimigo dos inimigos” dos portugueses. Nzinga recusou-se categoricamente a reconhecer-se vassalo dos portugueses. O acordo, que acabou por ser assinado em Abril de 1657, era “digno”: ela estava livre de pagar o tributo, Matamba continuava independente. A última batalha, bem sucedida, da rainha, já idosa, teve lugar no mesmo ano, contra os chefes dos jaga que sempre falhavam ao seu compromisso de não devastar Matamba.
Ela respondeu ao padre Antoine Gaete, missionário católico que elogiou a sua coragem: “Agora estou velha, padre, e mereço indulgência. Quando eu era jovem, nunca ficava atrás de qualquer jaga na rapidez de andar e na habilidade da mão. Havia tempos em que não hesitava em fazer frente a 25 soldados brancos armados. É verdade, não sabia manejar fuzil, mas, para desfechar golpes de espada também são necessárias a coragem, audácia e razoabilidade”.
Passou os últimos anos da sua vida em paz, tendo estabelecido relações comerciais com os portugueses e autorizado a cristianização do país. Ana Nzinga Mbandi Ngola faleceu a 17 de Dezembro de 1663. Tinha por volta de 81 anos de idade; durante quarenta destes longos anos foi soberana absoluta do país, tendo levado durante trinta e um anos uma luta desigual mas heróica contra os colonizadores portugueses e seus aliados.
A nova ofensiva dos portugueses no interior do país, da actual Angola, deparou-se com a resistência da população de Matamba, que estava encabeçada pelos sucessores de Nzinga, sua irmã Cambo (baptizada com o nome de Bárbara) e seu filho Ngola Canini (baptizado com o nome de Francisco Guterres). Este chegou a proibir a entrada dos portugueses nas suas terras, ordenou atacar as caravanas de escravos e pô-los em liberdade. Os portugueses, que tinham enviado um forte destacamento contra ele, foram derrotados nas imediações de Cotolo, em 1681. Porém, o próprio Francisco acabaria por morrer naquela batalha.
Sucedeu-lhe sua irmã, Verónica Guterres. Receando a feroz vingança, ela enviou, em 1683, uma missão para Luanda propondo estabelecer paz eterna. O acordo proposto pelo governador incluía a exigência de vassalagem, além da livre passagem das caravanas comerciais por terras de Matamba. O acordo não chegou a ser assinado.
No entanto, ainda durante um longo período de tempo deflagravam, de vez em quando, rebeliões contra os portugueses. Os rebeldes atacavam os traficantes de escravos e os missionários (que muitas vezes eram as mesmas pessoas), destruíam as igrejas, proibiam que os estrangeiros aparecessem nos seus territórios. Em resposta, os portugueses lançavam operações punitivas cruéis: segundo testemunhas, durante uma destas operações mais de 150 aldeias foram queimadas e alguns milhares de pessoas foram feitas escravos. Foi só nos fins do século XVII que Matamba e as regiões vizinhas ficaram sob o controlo total de Luanda.
Tradução do artigo de Eleonora Lvova, publicado na brochura do Instituto dos Países de Ásia e África, da Universidade Estatal de Moscovo (MGU), intitulada “A Arte Militar na Cultura dos Povos da África Sub-Sahariana” Páginas 29 a 35.
Sobre a influência de Ana Nzinga Mbandi NGOLA no Brasil ver